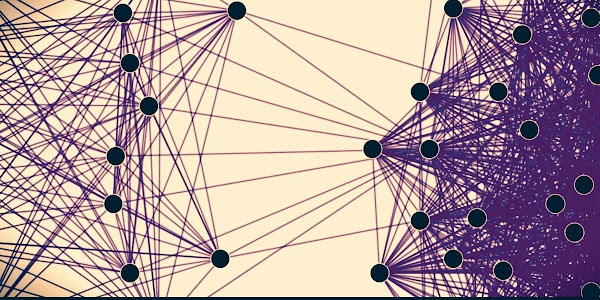No rescaldo da discussão e votação do Orçamento de Estado para 2021, aprovado com o voto contra do BE e a abstenção do PCP e do PEV (para mencionar apenas o voto daqueles que subscreveram as “posições conjuntas” com o PS a 10 de Novembro de 2015), vale a pena pensar um pouco sobre os caminhos que, a partir do que tem acontecido nos últimos tempos, se abrem à esquerda portuguesa quanto à forma de assumirmos as nossas responsabilidades perante o país. Deixo as minhas reflexões em quatro pontos.
1. Só encontro uma explicação para todo o processo que levou ao voto do BE contra o OE: os dirigentes bloquistas estimam que a pandemia, de uma maneira ou de outra, terá efeitos tão devastadores na sociedade e na economia do nosso país que trará como consequência política o fim deste ciclo político, concretizada em alguma forma de derrota do PS e de afastamento do seu governo. Creio que, na realidade, o BE não está propriamente interessado em discutir quais as melhores políticas para enfrentar a crise: o BE está convencido de que não há nenhuma política capaz de evitar pelo menos um ou dois anos de grande tensão social, de grande conflitualidade, de grande dificuldade de lidar serenamente com a incerteza pandémica, pelo menos um ou dois anos de grande sofrimento para largas camadas da população portuguesa – e, na visão bloquista, essa é uma boa oportunidade para humilhar o PS.
As divergências de hoje, entre o BE e o PS, não são significativamente diferentes das divergências que tivemos durante os últimos cinco anos, razão pela qual tem de haver uma explicação para, agora, essas mesmas divergências produzirem uma ruptura que não tinha sido publicamente perspectivada antes. A razão é simples: o BE não consegue desperdiçar o que lhe parece uma oportunidade para derrotar o PS, que assume como o seu principal alvo eleitoral. (Faz parte da estratégia a prazo do BE destruir o PCP, mas os bloquistas entendem que, nessa frente, a dissimulação rende mais: não deixar que se torne demasiado pública a completa incomunicabilidade política entre comunistas e bloquistas.) A pandemia está no cerne da estratégia política do BE. Tal como a República de Weimar foi derrotada, não apenas pelas suas próprias insuficiências, mas, em larga medida, pela problemática herança deixada pelo militarismo e pela monarquia autoritária, também há quem espere queimar o PS na luta contra a pandemia, embora a pandemia não seja da responsabilidade do PS.
2. O que deve, face a uma situação destas, pensar um militante socialista? Depende.
Há militantes socialistas que sempre desconfiaram, secreta ou publicamente, da solução política que combinava um governo minoritário do PS e uma maioria parlamentar plural formada pelos diferentes partidos que se reclamam da esquerda. São os que entendem que a democracia portuguesa viveria bem dispensando permanentemente o milhão de portugueses que volta e meia votam no PCP ou no BE, nunca lhes permitindo fazer parte de uma maioria política. São os que não compreendem que a crescente fragmentação política, um fenómeno que a Europa conhece bem, aconselha maior capacidade para fazer compromissos e criar maiorias a partir da diversidade. São, também, os que nunca entenderam que o PS não se podia permitir, depois das eleições de 2015, ficar no parlamento a suportar a continuação de um governo PSD/CDS, um governo de Passos e Portas, numa espécie de “abstenção violenta” continuada, depois de termos feito toda a nossa campanha contra esses governantes e as suas políticas. Os que ainda assim pensam estarão, talvez, convencidos de que o desentendimento à esquerda é bom e já tardava.
Entretanto, outros militantes socialistas entendem que a solução política construída a partir das posições comuns do PS com o BE, o PCP e o PEV, assinadas em Novembro de 2015, sendo um caminho difícil, é um caminho necessário. Conto-me no grupo dos que pensam dessa maneira. Uma vez que já expliquei essa minha posição muitas vezes, deixo repetida apenas uma ideia: toda a esquerda europeia, incluindo as correntes social-democratas, socialistas e trabalhistas, mas também outras correntes que se consideram mais à esquerda, atravessam um longo período de grande fragilidade política, por vezes de desorientação programática, e também de debilidade eleitoral, a tal ponto que precisam de construir uma capacidade de diálogo que permita, não apenas resistir, mas também construir soluções novas, progressistas em vez de conservadoras, para os desafios que enfrentam as nossas sociedades (não só os novos desafios, como a transição climática ou a transição digital, mas também os velhos desafios nunca resolvidos, como as desigualdades sociais e a insuficiente aplicação dos direitos humanos à vida concreta das pessoas).
Quero dizer: não vai voltar a haver “frentes de esquerda” como no passado, com pretensões de fusão programática, mas precisamos de ser capazes de construir maiorias políticas (e sociais) de uma esquerda plural que tenha amadurecido – isto é, onde saibamos viver com as nossas diferenças, sem as ignorar e sem as tentar eliminar, onde desapareça o sectarismo dos que se sentem na função de ditar o que é ou não é ser de esquerda.
3. A observação do que se passou este fim-de-semana com o congresso do PCP, a culminar um processo político de vários meses, incluindo a onda de anticomunismo primário que a direita portuguesa tentou ressuscitar nos últimos tempos, obriga a colocar a seguinte questão: qual é a natureza do PCP e do BE, designadamente no que toca à fronteira entre reforma e revolução, e como é que isso deve ser tido em conta por um PS que não se desinteresse da esquerda plural?
No plano ideológico mais geral, o PCP e o BE seriam partidos revolucionários. Partidos que concebem a mudança de sistema político e social pela força: uma revolução é essa ruptura, não é uma coisa que se decida no parlamento. O PS é um partido reformista, que não concebe nenhuma ruptura violenta do sistema político e social à margem da democracia representativa. Então, como pode conceber-se uma colaboração política entre o PS e aqueles partidos?
Sem andar muito às voltas, a resposta é simples. O PCP nunca deixou de ser ideologicamente revolucionário, mas, como é da tradição, não avança para nenhuma iniciativa revolucionária sem verificar condições objectivas para a mesma, designadamente, uma adesão de sectores importantes das classes trabalhadoras à ideia de uma mudança profunda de sociedade, adesão essa normalmente provocada por uma degradação brutal das condições de vida que, pelas suas consequências concretas e sentidas, exclui a esperança dos explorados em melhorarem as suas vidas no sistema dominante. O PCP sabe que, de momento, não existem essas condições revolucionárias – e, ao conseguir ganhos concretos para aqueles sectores da população (“os trabalhadores e o povo”) que considera representar, em termos de salários, pensões, direitos laborais e sociais, está, objectivamente, a afastar a perspectiva de um momento revolucionário. Enquanto a democracia portuguesa for capaz, mesmo que de forma descontínua, de dar perspectivas de melhoria de vida a camadas suficientemente largas da população, a natureza revolucionária do PCP esperará pelas condições objectivas, como esperou até hoje.
Já no BE, que sem dúvida teve origem em grupos com ideologias revolucionárias, essa perspectiva está claramente esquecida na prática política. Como Catarina Martins reconheceu na campanha das últimas legislativas, o programa eleitoral do BE era social-democrata (no velho sentido do termo, que também é o que eu uso). Mas, mais do que isso, qualquer tentação revolucionária foi, há muito, substituída pela mais corriqueira identificação do PS como inimigo principal, como primeiro alvo eleitoral, “na forma tentada”: tentar forçar o PS a qualquer forma de acordo que dê ao BE o estatuto de força principal da esquerda da esquerda, para, primeiro, subalternizar o PCP e, simultaneamente ou depois, forçar a entrada no governo para tirar ao PS o estatuto de único partido governante da esquerda. O BE, que é um partido política e ideologicamente mais maduro do que o Podemos espanhol, não suporta a ideia de ter sido menos bem-sucedido do que Pablo Iglesias a forçar os socialistas a aceitarem esse parceiro de governo. Não vejo que o acesso a responsabilidades governativas deva estar vedado a um partido como o BE; o que vejo é o BE excessivamente focado em objectivos tácticos, que giram principalmente em torno da disputa com o PS em prejuízo de estratégias políticas de longo prazo mais desejáveis: aquelas que seriam capazes de reunir diferentes correntes de esquerda em transformações estruturais do país, focadas no combate às desigualdades e na promoção dos direitos sociais.
Não acredito na unidade da esquerda. A esquerda andou demasiado tempo agarrada à ideia de unidade, que se transformou numa ideia de homogeneidade – e, daí, em tentações de hegemonia. Acredito, sim, na diversidade da esquerda. Na vantagem democrática da diferença. Na esquerda plural. Em fazer da diferença, da diversidade, da pluralidade – em vez de uma fraqueza, uma força.
4. Ainda continuo a pensar que a missão do PS é ser o centro da esquerda: o partido do socialismo democrático, que vem na linha do reformismo e não da revolução (que quer transformar a sociedade sem recurso à violência revolucionária), que é democrata antes de ser socialista, que toma como missão diminuir as desigualdades e as injustiças num quadro democrático, assumindo que a mobilização de outras forças de esquerda para a prossecução desses objectivos é indispensável neste momento histórico de grande enfrentamento com as forças do retrocesso e de ataque à democracia. A quem pergunta: "como é isso possível depois dos acontecimentos recentes?" eu respondo: isto é ainda mais necessário depois dos acontecimentos recentes.
Quer isto dizer que os socialistas devem excluir as pontes com outras forças democráticas, mesmo da direita? Não. Uma direita democrática faz falta a um país democrático e a esquerda democrática deve ser capaz, com ela, de garantir a configuração adequada do regime para garantir uma democracia efectiva e com resultados, incluindo a alternância sem a qual não é possível concretizar a democracia. Mas há que separar as questões: devemos garantir uma democracia com alternativas democráticas de governo, mas devemos fazer a nossa parte para oferecer ao país uma esquerda plural capaz de responder ao país. Ainda mais nos tempos difíceis que vivemos. Sem perdermos o rumo e sem cometermos o erro daqueles que escolhem os tempos mais difíceis para exercer o sectarismo.
Porfírio Silva, 29 de Novembro de 2020